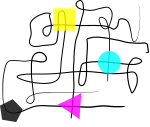Saúde multiespécie (SAME)
O que é saúde, quem pode tê-la, quem deve tê-la e o que deve ser feito para tê-la? Quem é ouvide quando responde essas questões e como a escuta seletiva molda modos de viver, adoecer e morrer?
No mito colonial da modernidade, o indivíduo e o humano superior definem as respostas. O homem ocidental é a máxima expressão da evolução biológica e cultural; sua saúde vem em primeiro lugar. Quanto mais distante das elites, a saúde é mais um recurso necessário para manter funcional a força de trabalho e atender exigências comerciais de biossegurança. Deve-se garantir um mínimo de saúde para que trabalhadores humanos e outros-que-humanos sejam rentáveis, para que os produtos de origem animal e vegetal não sejam condenados no mercado. Sem individualismo e antropocentrismo, o mito colonial da modernidade murcha e outros modos de viver e ser saudável afloram.
Curiosamente, a própria ciência moderna desfaz a noção de indivíduo biológico. Coletivos multiespécies de bactérias coparticipam em processos embriológicos, fisiológicos e imunológicos constitutivos de organismos multicelulares. Nos corpos humanos há mais células bacterianas que humanas. O material genético dos humanos coevolui com o dos viventes que dependem deles e dos quais eles dependem. Biologicamente, o que chamamos de humanos são sempre mais-que-humanos, coletivos multiespécies que fazem parte de outros coletivos multiespécies. Mais que indivíduos, existem corpos-territórios ou, em jargão biológico, holobiontes. Você é um holobionte, ao igual que as baleias dizimadas pelo extrativismo e a perturbação dos ecossistemas marinhos, ou as baratas morando no esgoto que não dá conta da superlotação das cidades tomadas pelo mercado imobiliário.
Ideologicamente, o indivíduo autossuficiente, independente e egoísta é a personagem da ficção conhecida como “estado de natureza”. Numa versão dessa ficção, os homens em permanente conflito e paranoia buscam roubar os outros e não se deixar roubar e matar. Entre as soluções dadas para superar o estado de natureza, está um contrato social, no qual um cálculo egoísta convence aos homens livres, iguais e independentes da vantagem de renunciar à liberdade total para aderir à autoridade conferida a um governante que garante a proteção da propriedade privada e da vida. Na época em que se formulou essa solução, entendera-se que as mulheres dependiam dos seus maridos e, portanto, não eram livres, iguais e independentes, o que as impedia de participar do contrato. Eis aí o nascimento do Estado nacional moderno, uma ficção estruturante da interpretação e organização da realidade social, que após ter sido uma saída aos regimes monárquicos, tornou-se mais um dispositivo de opressão. Um estado de natureza fictício que foi superado mediante uma realidade moderna, isto é, genocida e belicosa como nenhuma outra; a mesma das guerras mundiais e do nazismo; das armas nucleares; a que fez um globo, desenhou o planeta nele para reparti-lo entre Homens brancos e impôs violentamente seus costumes mundo afora (globalização); a que chama de Antropoceno ao Capitaloceno enquanto vende soluções verdes e torna a terra mais hostil à diversidade biocultural. Um mínimo de realismo invalida esse indivíduo moderno, pois nascemos, crescemos e vivemos em interdependência, mobilizando afetos vários que vão muito além do conflito e da paranoia. Se há indivíduos, eles não são criaturas “indivisíveis” e sim configurações relacionais, cuja materialidade, agência e significado emerge e se dá nessa relações.
Mas quem somos nós? No mito colonial da modernidade há um humano superior, cuja existência depende de um ponto de comparação inferior. A animalização fora a saída encontrada pelos modernos para bancar essa ideia de superioridade. Por meio dela cria-se o animal como referência de inferioridade, à qual se opõe o humano superior: branco, másculo, heterossexual, de origem europeia. A animalização colonial é um dispositivo de produção de Outros inferiores, aplicado a viventes outros-que-humanos e também a humanos; desde os não-brancos exibidos em zoológicos até o início do século XX, até os atuais não brancos que junto a outras pessoas sexo-gênero dissidentes têm menos privilégios, são insultados mediante a atribuição de características animais ou “tratados como animais”. É nesse espectro degradante que vai do homem ao animal que “nós” e “outros” tornam-se categorias inteligíveis para a modernidade. Decolonialmente, ser tratade como animal é ser tratade com respeito, dado que essa animalidade não é uma condição inferior marcada pela carência da essência do homem. É o que compartilhamos com uma multiplicidade de outros animais. Desde a animalidade decolonial, “quem somos nós” é sempre uma questão situada e o Outro não é inferior, é circunstancialmente diferente, um vivente por quem nos preocupar.
O cuidado coletivo de nós e dos outros – sem individualismo e antropocentrismo – é a base da saúde multiespécie que concebemos. Longe de ser uma abstração ingenua de um mundo sem sofrimento, esse cuidado é um levar a sério os interesses dos outros, engajando-se nos conflitos para buscar resolvê-los da maneira mais justa possível e cultivando a nossa empatia para como outros viventes. Se a espécie é por um lado uma categoria de taxonomia biológica, também denota e conota um conjunto de entidades com algo em comum. Pode haver espécies biológicas, mas também espécies de seres, saberes, relações e existências. Portanto, os coletivos multiespécies não se restringem aos viventes e muito menos aos animais. A composição de um dado coletivo multiespécie é sempre circunstancial e está atrelada a um ponto de vista. A saúde de coletivos multiespécies assim compreendidos está nas periferias coloniais-capitalistas da modernidade. O que busca essa saúde não é a inclusão das periferias no centro colonial, pelo contrário, é fazê-las tão periféricas que fiquem fora do alcance da marginalização patológica operada por esse centro. Trata-se de uma saúde pública e coletiva, pautada pelo bem viver, que não quer fechar prematura e antropocentricamente a composição do público e do coletivo.
A Rede SAME (Rede de Saúde Multiespécie) começou se chamando Rede SUP (saúde única em periferias), numa tentativa de decolonizar o que no Norte global denomina-se Saúde Única (One Health, Uma Saúde), para abordar a saúde de humanos, de animais e do ambiente. Entretanto, a própria expressão carrega uma conotação colonial e acabamos concluindo que é melhor evitá-la. As espécies biológicas têm funções ecológicas e epidemiológicas diversas. Em muitos aspectos há mais semelhança entre humanos e ratos que entre ratos e águias, ou entre humanos e cachorros que entre mosquitos e rinocerontes. Entretanto, a Saúde Única amontoa e reduz a diversidade animal na categoria “animal” e retira dela os humanos para os pôr numa categoria excepcional, à parte, a dos humanos e somente humanos; os outros viventes os coleta na categoria ambiente, por vezes distinguindo às plantas. Nessa categorização, viventes humanos e outros-que-humanos não são ambientes (coletivos multiespécies, corpos-territórios, holobiontes).
Se existe apenas Uma saúde como muitas vezes se diz no âmbito da Saúde Única, então não existe saúde e Saúde Única, pois não há duas, há apenas uma. Entretanto, ao revisar a literatura epistemológica, fica claro que há muitas teorias sobre a complexidade da saúde, mas não há uma teoria Unificada que sintetize todas as formas de entender a saúde, entre outras coisas porque há concepções incompatíveis e nem todas se aplicam a todos os viventes. Além da diversidade epistemológica, a saúde como fenômeno é uma experiência diferente para cada vivente. Não existe apenas Uma saúde, cada vivente tem uma experiência singular da sua saúde. Tampouco é possível garantir a saúde para todos, porque a vida de alguns depende da morte de outros e os que morrem perdem a saúde (isso, no entanto, não é uma licença para justificar qualquer morte). A Saúde Única como uma abordagem e não como um conceito de saúde também não é a única. Além de haver mais de um conceito de Saúde Única, têm surgido outras expressões para tratar do que não é abordado pelos discursos hegemônicos: Saúde Única em Periferias, Saúde Única Estrutural, Saúde Única Justa, Saúde Única Relacional, Mais-que-uma Saúde. Algo que é enfatizado na maioria das concepções de Saúde Única é a transdiciplinaridade e a intersetorialidade. Mas pensemos na saúde pública, na nova saúde pública, na saúde coletiva, na saúde comunitária, na saúde ambiental, na saúde planetária, na saúde global, na ecosaúde e em muitas outras. A transdiciplinaridade e a intersetorialidade são inerentes a todas elas, qualquer abordagem de saúde tem que ser transdisciplinar e intersetorial. O que resta para distinguir a Saúde Única é a ênfase em certas relações entre humanos, outros animais e ambientes, notadamente aquelas que têm a ver com as zoonoses e a resistência antimicrobiana, sem questionar a ordem moderna-colonial. Entretanto, essas e outras questões abordadas pela Saúde Única também são tratadas por outras abordagens, embora não com a mesma ênfase. A Saúde Única tem particularidades e, nesse sentido, é única, mas o mesmo pode ser dito de qualquer outra abordagem. Talvez essa seja outra característica distintiva: é a “única que se proclama como única”. Por fim, vale a pena mencionar outra ideia que às vezes é associada à Saúde Única: tudo está conectado e, portanto, qualquer coisa acaba afetando a saúde de todos, logo, existe apenas Uma Saúde. Como sabemos, o problema dessa relacionalidade absoluta é que se algo é tudo, perde a especificidade e se torna nada. Se tudo é Saúde Única, é irrelevante dizer que se está trabalhando com ela, pois é impossível que seja diferente.
O Sistema Único de Saúde (SUS) traz-nos um desafio de outra ordem. Apoiamos um sistema de saúde público robusto e a conjuntura atual nos lembra que isso significa a defesa de um SUS mutável, capaz de responder à complexidade dos nossos tempos. Apesar do seu nome, o SUS não é único. No território que de um tempo para cá começou a ser chamado de Brasil por muitos, existem povos indígenas, notadamente os não invadidos pela colonização moderna (“isolados”), que cuidam da sua saúde por outros meios diferentes ao SUS. Está também quem utiliza o SUS, mas simultaneamente recorre a outros sistemas de saúde não ocidentais por fora dele. Infelizmente existe também um sistema de saúde privado que sucateia o SUS. Por outro lado, os usuários que o SUS concebe são humanos e quando cuida de outros viventes, o faz antropocêntricamente. E se esses viventes continuam existindo é porque têm saúde para tal. Quem cuida deles? Por vezes sistemas antrópicos de saúde para viventes outros-que-humanos, mas é bom lembrar que os próprios viventes são, também, sistemas de saúde que quando deixam de funcionar, morrem. Um SUS com capacidade de resposta não pode se fechar à autocrítica e à eventual conclusão de que nunca foi único, apenas mal nomeado.
No mito ocidental existe somente um Único universo, o descoberto pelo ocidente, no qual a Ciência é a Única fonte de verdade e o caminho da modernidade é o Único que o Homem deve seguir. Essa monocultura colonial está se desfazendo em face à crise civilizatória que vivemos, cada vez mais incompatível com a vida na terra, como atestam as próprias ciências modernas. É preciso entender e viver de maneiras diferentes daquela que nos levou a tamanha crise. Isso não implica banir ciências e tecnologias ocidentais, apenas redirecioná-las a interesses decoloniais, sem torná-las hegemônicas. Também não se trata de negar a ideia de unidade e totalidade. Unificando e totalizando é que compomos coletivos, mas esses procedimentos (em plural) são provisórios, têm de ser refeitos para recompor os coletivos, corrigindo marginalizações que injustamente deixam alguns fora deles. Contra as narrativas que se pretendem as únicas, em especial o monólogo da modernidade, preferimos enfatizar a multiplicidade.
Através da universalização e da naturalização querem nos convencer de que a modernidade, isto é, a ordem colonial-capitalista, é o único que existe e poderá existir, apesar desta ser recente e provincial, além de ampla e violentamente imposta. Qualquer alternativa ou questionamento é sistematicamente ridicularizado e inferiorizado para apagar e impedir modos de ser e viver não alinhados com os interesses coloniais-globais. Os senhores da casa-grande, “preocupados socioeconomicamente”, opunham-se ao fim da escravidão porque causaria fortes impactos econômicos e sociais. Eles ainda “cuidavam da saúde” de escravizadas e escravizados, mediante estratégias que se refletiam em indicadores quantitativos de morbidade, mortalidade e reprodutivos. Que economia e sociedade são essas que não são brutalmente impactadas pela escravidão, mas sim com o fim da mesma? Que saúde é essa que melhora indicadores objetivos mensurados em escravizades e não busca o fim da escravidão? Quais as modalidades de escravidão atuais e quem são os viventes atualmente marginalizados nos que se aprimoram indicadores enquanto se naturaliza a marginalização patológica a que são submetidos?
Os senhores de hoje, “preocupados socioeconomicamente”, continuam defendendo as opressões que sustentam seus privilégios, para evitar mudanças estruturais que causariam fortes impactos econômicos e sociais. Eis a questão, pois as mudanças estruturais contra a injustiça não deixam as coisas como estão, são para gerar impactos destrutivos na economia e sociedade opressoras, afim de construir economias e sociedades solidárias, em favor dos coletivos multiespécies mais vulnerabilizados. Os senhores e seus acólitos estão sempre prestes a defender o agronegócio, enquanto ignoram, condenam ou ridicularizam (três estratégias ideológicas) a agroecologia e a reforma agrária. “Você está pensando em bicho, plantinha e natureza enquanto tem milhões de crianças famintas? O que precisa é fazer o PIB crescer, produzindo toneladas de carne barata!” Na solução mirabolante do Agro pressupõe-se que não existem externalidades, para poder dizer que a carne é barata; omite-se o fato de que nada é barato para quem vive na pobreza; não se questiona quem abocanha a maior parte do PIB; não há preocupação com a soberania e a diversidade alimentar. Uma coisa é acabar com a pobreza e produzir comida diversa e saudável, outra é enriquecer oligopólios produzindo alimentos de segunda categoria para cidadãs de segunda categoria. Os senhores de hoje aplicam a mesma lógica em qualquer âmbito mercantilizado; para eles, nenhuma missão é impossível desde que esteja alinhada com seus interesses, senão, é tolice, ingenuidade e utopia fadada ao fracasso.
A saúde colonizadora (ou colonização da saúde) apresenta-se com vários nomes, é supostamente neutra porque científica e busca aprimorar indicadores quantitativos que definem reduzida e convenientemente a saúde de viventes humanos e outros-que-humanos. Ela consegue melhorar alguns indicadores de saúde de viventes marginalizados, mas nunca leva a sério os efeitos patológicos da marginalização, já que sem esta, a colonialidade se desfaz. É uma saúde que fala de “história natural” das doenças e tira os efeitos patológicos da marginalização dessas histórias, reservando o papel causal apenas a microorganismos, moléculas, falhas orgânicas e outros alvos de intervenção que não comprometem o mito da modernidade.
Os movimentos de saúde decolonial não são uma negação abstrata das estruturas de opressão hegemônicas. Se as opressões são estruturais, de alguma forma as reproduzimos, mesmo querendo acabá-las. Entretanto, as estruturas não são imutáveis e não dão conta de tudo o que existe. É aí que entra a (de/contra/anti)colonização, num esforço genuíno por reproduzir cada vez menos essas estruturas patológicas, em aliança com outros coletivos multiespécies que têm resistido a genocídios e ecocídios modernizadores. A promoção decolonial da saúde multiespécie não tem fórmula mágica para realizar instântanea e absolutamente uma utopia. Consequentemente, procede a partir das possibilidades situadas que encontra no cotidiano, herdando e assumindo conscientemente tanto o peso da história e do presente colonial como a resistência decolonial, para que as utopias de hoje sejam realidades amanhã. Se as utopias não se concretizam, as distopias tomam conta.
O planeta está febril, aquecido pelas mutações climáticas. Não queremos antipiréticos para mascarar o crescimento do câncer colonial disfarçado de globalização benevolente; queremos extirpá-lo. É uma operação invasiva, nunca realizada, com probabilidade de mais metástase e prognóstico ruim. Mas sem a cirurgia, o prognóstico é nefasto. Não tem saída simples desse imbróglio.
A saúde multiespécie compreende vivências, entendimentos e transformações decoloniais; é uma práxis de ações informadas pelo conhecimento dos efeitos patológicos da marginalização, que constrói saberes a partir dessas ações; é um convite e uma escolha para ser e viver de outros modos, interessados no bem viver multiespécie e, portanto, cada vez mais distantes do centro colonial-capitalista-moderno que dá conforto a alguns – principalmente brancos – à custa da opressão de muitos. A saúde multiespécie é mais uma forma de multiplicar a fuga decolonial em curso.
E você, holobionte, vai bancar o mito da modernidade ou vai se engajar com a saúde multiespécie?”